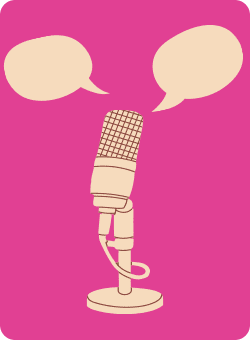“Não existe demência senil, não existe demência senil, não existe…”— no desenho que o neurologista Diogo Haddad Santos projeta para seus alunos na Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, o personagem Bart, filho mais velho da família Simpson no desenho criado pelo cartunista americano Matt Groening, copia a frase diversas vezes. E é preciso mesmo que ela entre na cabeça — e não só na dos futuros médicos na sala de aula.
“Envelhecer não é doença e o esperado é que o cérebro mantenha a sua funcionalidade, organizando as ideias e preservando a autonomia, mesmo que o indivíduo tenha 90, 95, 100 anos”, garante o professor. “Claro, dentro de parâmetros normais para aquela idade”, completa.
Ao ouvir isso, questiono: mas o que seria normal? “Depende um pouco do quanto a pessoa usou o seu cérebro ao longo da vida e há também um pouco de subjetividade, isto é, das expectativas de cada um”, responde o médico que, então, me conta uma história bastante emblemática. Aconteceu no Hospital Alemão Oswaldo Cruz, em São Paulo, onde ele é o coordenador do Núcleo de Memória.
O senhor, de mais de seus 90 anos, estava aflito. “Acho que estou com Alzheimer”, queixava-se com eloquência. Ele ainda estava na ativa profissionalmente e cuidando de uma firma com algumas dezenas de colaboradores. Aflito, já não se lembrava de tudo o que estava acontecendo no escritório.
Diogo Haddad então lhe disse que, claro, ele faria exames e que, sim, diante dos resultados seriam indicadas melhores estratégias de reabilitação para o seu caso. Mas disparou a seguinte pergunta: “O senhor pratica corrida?” Nesse instante, o sujeito à sua frente arregalou os olhos sem entender nada. “Como sabe, pessoas saudáveis na sua idade conseguem andar, mas já não têm força para uma corrida e certamente não cobram isso dos seus músculos. É a mesma coisa: por que está cobrando o equivalente a uma maratona do seu cérebro?”.
A comparação é excelente para a gente entender o envelhecimento cerebral normal, como o daquele paciente — que, aliás, continua com a cabeça tinindo, mas agora com o bom senso de não forçá-la a controlar as informações diárias do escritório, poupando-a para decisões mais estratégicas, onde a tal da experiência conta um bocado.
O fato é que existem extremos, que Diogo Haddad conhece bem, atendendo pacientes da rede pública na Santa Casa e particular, no Oswaldo Cruz. Na rede pública, em especial, muitos indivíduos chegam em estágios bastante avançados de demências, quando já há menos o que se fazer — o que é pena, porque hoje há algumas boas possibilidades terapêuticas para frear a velocidade com que avançam.
Já no consultório privado, é mais frequente encontrar gente que estranha os primeiros sinais de que a memória já não anda a mesma. Ainda assim, são menos casos do que Diogo Haddad e seus colegas gostariam de encontrar.
“Há dois principais motivos para isso”, nota o médico. “Um deles é que, em português, o termo demência assusta ainda mais do que lá fora, por ser carregado de preconceito.” Ele lembra que, por aqui, a palavra demente soa como o nome que se dá ao portador de uma doença neurogenerativa, mas é usado até como xingamento. Tanto que toma o cuidado de evitar pronunciar que males como Alzheimer é uma forma de demência — e é.
Assim como essa doença que provoca paulatinamente um apagão nas lembranças, existe a demência frontotemporal ou simplesmente DFT e a demência de corpos de Lewi, para citar os tipos mais comuns na nossa população. Sem contar as afasias progressivas primárias, que afetam a linguagem, mas que, adianto, no fundo são formas ou do Alzheimer ou do DFT.
“Nos últimos tempos, aprendemos que existem subtipos de cada uma das formas de demência e não duvido que, em dez anos, o que hoje chamamos só de Alzheimer, por exemplo, se desdobrará em vários nomes”, aposta o neurologista. Só um deles, nesta altura já sabe, deve ser apagado da nossa memória — demência senil. Porque não existe.